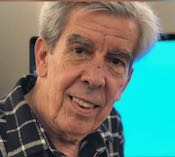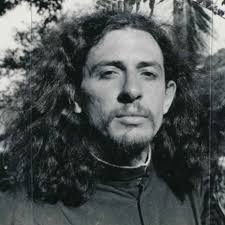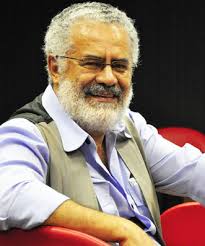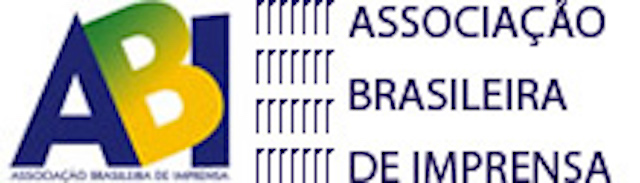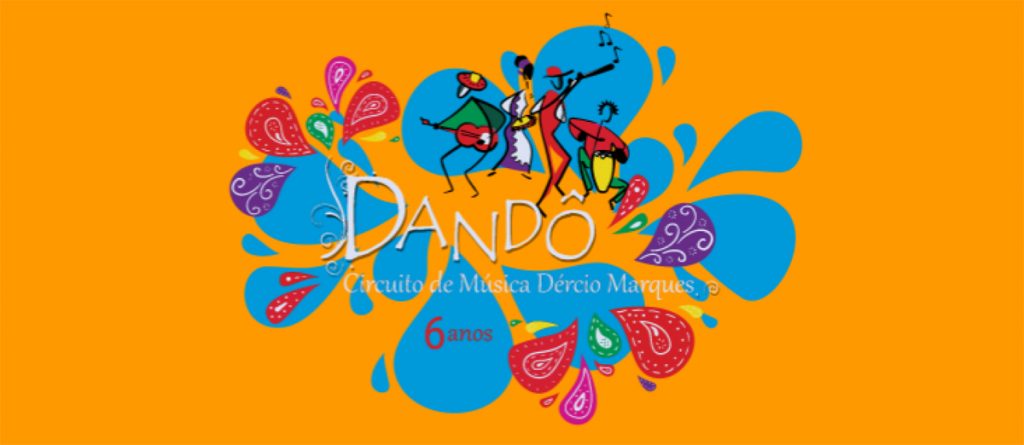Tudo que escrevo me reporta a mulher que eu queria conhecer cebolinha. Porque penso que nascermos cebolinhas e criamos camadas que engrossam e craquelam. E que provocam choro, paixão ou ojeriza.
Somos isso. Enormes cebolas. E eu queria ter conhecido Terezinha enquanto era cebolinha. Por certo que a cebolinha estava lá quando a conheci, mas certo também é que nossas camadas externas resguardam o que somos bem no início.
Eu conheci Terezinha já com muitas camadas e choros.
Sei que não foi criança por muito tempo. Que teve muitas madrastas. Sei que sua avó fora escrava. Já Terezinha, era livre na lei, mas presa na vida.
Foi doméstica, sonhava ser freira. Talvez porque fosse um caminho para o estudo. Desconheço uma mulher com mais garra. Tanto assim que adoecia quando não tinha o que fazer.
E foi logo entre as freiras que descobriu a tortura por ser diferente. Chegou pequena, no colégio. Criada sem mãe, que fugiu quando ela era muito pequena, chupava o dedão. Aliás, como quase toda criança, preta ou branca. Mas no imaginário religioso, a tortura, a dor, a privação e mesmo as provações sempre foram pretas. As freiras lhe queimavam os dedos no fogão. Foi assim que perdeu esse direito de criancice. Perdeu muitos daí para trás ou para frente.
Estudou o primeiro ano escolar com as freiras, aprendeu a ler. Pelo que analiso hoje, tinha leve dislexia. Trocava fonemas na fala e escrita e evitava a escrita por ter “letra ruim”. Foi logo para a cozinha, para o esfregão e o tanque. Foi doméstica desde os oito anos. Dormia no emprego e sabia que só sairia de lá para casar. Essa espécie de sentença imputada às meninas pretas desde sempre. E o casamento, como habeas corpus, comutava a pena. E todo o mais era agravante.
Era menina inteligente, e gente inteligente sofre quando é gente preta. Preto precisava nascer sem entender o que lhe espera a vida. Mas, a biologia não faz distinção. Então lá vem nascendo outro negro cuja capacidade mental não lhe detrairá em nada dos demais humanos, mas sabe-se lá o porquê, vai sim.
Aprendemos. E a Terezinha aprendeu com proficiência a lavar os lençois mais brancos, a quarar, a alvejar com anil, a bater a roupa com a força do ódio dos sem perspectiva. Aprendeu a cozinhar o banquete dos ricos, as sobremesas de fora. Aprendeu a limpar os lugares onde ninguém nunca veria. A costurar à mão e com a máquina.
E aprendeu a andar com as costas eretas, a barriga prensada e o quadril encaixado, quase como uma bailarina.
Coisas que as meninas aprendiam a fazer. A estrutura ensinava a mulher a ser dona de casa, a mulher preta a ser doméstica. Cresceu bonita, a menina Terezinha. O que não foi de grande ganho. Porque beleza que ninguém vê é só o que? Nem é.
A vida era cuidar dos outros, como o foi para sua avó, suas tias, suas parentas todas desde a primeira no porão de um navio negreiro.
Lia pouco, ou melhor, com dificuldade, mas sempre lia. Lia muito. E narrava histórias cheias de intenções.
Seria boa escritora se soubesse que podia. Casou aos 21, tendo como herança, pelos muitos anos de trabalho, um baú de madeira com um enxoval finíssimo. Ofertado pela patroa como promessa cumprida. Uma bonificação. Uma alforria premiada.
E, por certo, esse baú virou para os descendentes “O Baú”. Muitos não chegaram a vê-lo, foi roubado por uma parenta, dessas que acham que merecem algo por ser quem é. E com ele se foi parte do enxoval, outra lenda que sempre povoou o pensamento dos que vieram depois.
Creio que Terezinha da Silva nasceu para criar, cuidar, ensinar, benzer e orar.
Quantas dores curou com balbucios inaudíveis, água e ervas surradas ao ar.
Quantas dores de si nunca conseguiu tirar. Mas dizia sobre opressão. Sobre luta de classes. Foi mulher sofrida, casada, traída, engravidada como prisão perpétua e a condição de não impor regras sobre si. Mas foi forte. Resistiu aos frios paulistanos, aos despejos, aos cortiços, à favela. Numa evolução regressiva da condição social. Da cidadania incompleta.
Não fosse pela dislexia seguiria Carolina de Jesus, pois que escrevia, com a voz, o mundo negro, a vida da mulher negra e periférica, a fome e o medo da vida privada. Da vida privada de vida.
Aprendi a ler nesse livro. Li muito as histórias de Terezinha, menina, moça e mulher. Conheci os abusos físicos e psicológicos; aprendi sobre ter que vestir a roupa que impede a dúvida. Sobre como não morrer de fome com o que serve o terreno baldio. Aprendi matemática, conferida com rapidez de calculadora. E aprendi a não mentir, roubar ou prejudicar.
Li Terezinha da Silva, nas garrafas de bebida alcoólica e na disposição em acordar disposta e bem arrumada para pegar o coletivo, sem nunca faltar um dia ao trabalho, mesmo doente.
Aprendi o significado de ser mãe, e mulher menos que mãe. E aprendi que a vida é um eterno retorno.
Terezinha nunca foi Tereza. Nasceu diminutiva no nome. Superlativa na luta e na capacidade pedagógica.
Talvez eu não saiba escrever o suficiente, como Conceição Evaristo e suas narrativas mescladoras do real e do fantástico. Mas inegavelmente essa Terezinha daria um romance repleto de detalhes que eu nem me atrevo a enfeiar por não saber como fazer.
Talvez quando chegar a minha hora de ser história, alguém de mim me escreva e descasque minhas camadas e chore por mim e por aquela cebolinha chamada Terezinha.
Texto é de Cristiane Alves que é uma das convidadas para participar do encontro com a escritora e romancista Conceição Evaristo, pelos Estados Gerais da Cultura: ‘A gente combinamos de não morrer’. Cristiane tem presente em seus escritos o drama das mulheres negras ao longo da história.
Cristiane Alves será apresentada segundo suas próprias palavras. “Cristiane de Assis Macedo Alves. Mulher preta, mãe, irmã, esposa e filha (necessariamente nessa ordem). Geógrafa, professora de Geografia e Gestora ambiental. Especialista em Educação Especial na área de Altas Habilidades/Superdotação.Feminista por convicção, resistência (sem que exista outra opção) e sobrevivente. Porque não há minoria que não lute muitas lutas infinitamente, enquanto dure.Escreve como colunista no GGN desde 2018 algo pelo qual sente imenso orgulho.“